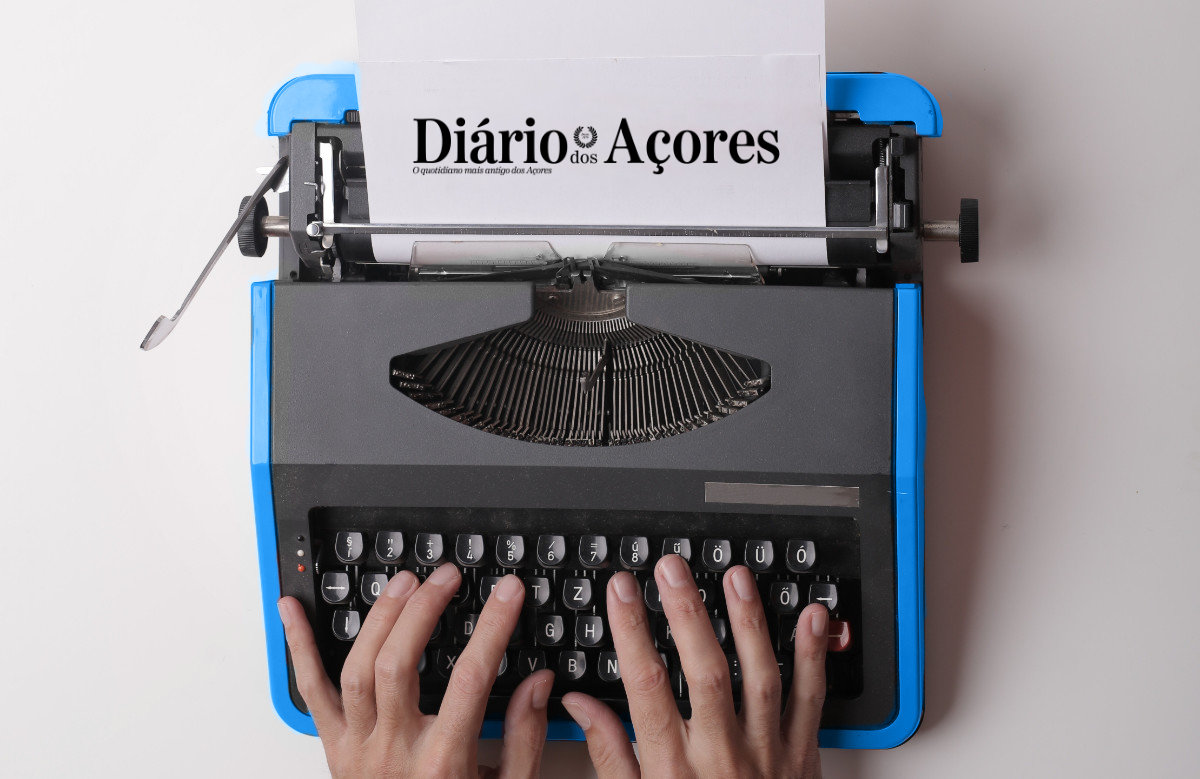De vez em quando, convém olhar para trás e tentar ver o que ainda está por esclarecer e conhecer da presença dos Açores e dos açorianos na vida cultural do país, sobretudo quando essa presença alcançou patamares de excepcionalidade e concentração inusitadas. Esse exercício historiográfico é tanto mais útil quanto ilustre, para presentes e vindouros, que a prestação literária e artística das Ilhas contrastou claramente com o seu isolamento oceânico, o qual tem hoje constrangimentos outros que a dificuldade de comunicações ou viagens. Fui recentemente solicitado para uma pesquisa sobre a recepção do poeta Afonso Duarte (1984-1958), na qual pude identificar artigos de Vitorino Nemésio e de Eduíno de Jesus, ambos residentes ou activos nos anos 1950 na «cidade dos doutores», onde também estudava advocacia Jacinto Soares de Albergaria (1928-81) — e antes deles estivera Duarte de Viveiros (1897-1939), que dedicou um poema ao autor deLápides.
Nemésio foi em Coimbra director da Gente Nova e depois da Revista de Portugal, onde muito escreveu, como era de seu natural. Eduíno e Jacinto estabeleceram ali uma colecção de livros, «Arquipélago», com 15 títulos publicados de 1951 a 1960, uma colaboração para o Instituto Cultural de Ponta Delgada em parceria com a Coimbra Editora. A cidade — importa dizê-lo — vivia então um dinamismo cultural e editorial de monta, com o pujante teatro universitário, editoras como Atlântida (com toda a modernidade das capas de livro por Victor Palla) e Presença, a influente revista Vértice e, além disso, servia de sede ao movimento literário neo-realista conhecido como do Novo Cancioneiro. Foi portanto, e sobretudo, nesse contexto dinâmico que a literatura açoriana então se afirmou, também enquanto crítica literária.
Eduíno de Jesus deu em 1955 à revista Estudos do Centro Académico de Democracia Cristã, um estudo comparativo da poesia de Afonso Duarte com a pintura de Vincent van Gogh, um dos seus muitos trabalhos que merecem ser reunidos num livro que faça enfim justiça ao seu protagonismo cultural em meados do século passado, certamente desconhecido ou mal conhecido dos admiradores da sua figura longeva e sempre curiosa. Dada a extensão, não é possível reproduzi-lo aqui, como tanto gostaríamos, mas ficamos muito bem servidos com um artigo de Nemésio, sempre encantador, sempre instigante, sempre ele como mais ninguém…
Vasco Rosa
A Sibila da Ereira
A cova da Sibila de Afonso Duarte é a Ereira, povoação como que lacustre entre os dois braços do Mondego, e que o poeta um dia chamou «ilha de Ereira» «a par [de] Montemor», ou «sob o domínio do castelo de Montemor-o-Velho, às audições do Atlântico». A estranha sintaxe «às audições» torna-se natural se pensarmos que o autor a decalcou sobre o tipo de locução «à vista de», para dizer: «de onde se ouve o Atlântico». E, de facto, a catorze quilómetros da Figueira e a vinte e cinco de Coimbra, a ínsua da Ereira, junto dos grandes arrozais e pastagens da Foja dos Crúzios, tocando os confins dos Campos do Mondego, está já sob a forte influência do litoral. O mar manda até lá os seus mugidos, nevoeiros e gaivotas. Olhando o Montemor de Martim Moniz do Poema do Cid e do poeta pastoril da Diana, e adivinhando a Soure dos Templários, a Ereira sente a Gândara, aponta à Bairrada e tem o Pinhal do Rei quase aos pés. Excelente lugar para a criação e os gestos de uma Sibila que seja ao mesmo tempo portuguesa e europeia, antiga e moderna e, como Sibila ocidental, outrora testemunha dos choques da Cruz e do Crescente. Pois é precisamente essa Sibila que fala num poema que Afonso Duarte subintitulou «trinta e cinco redondilhas fingidas» e que fez acompanhar de um «soneto verdadeiro», cujos tons polifónicos incorporam toda a arte portuguesa a catorze versos, de Camões a Pessanha e, enfim, ao próprio Duarte, que sempre a renova e amplia.
Só têm direito à honra da relação de lugar os poetas que nascem, crescem e se dispõem a bem morrer no mesmo sítio, fiéis à estrutura natal e dela tirando o suco e a sustância dos seus poemas. Também os há a quem a vida desenraizou do torrão e que souberam transferir consigo a terra espiritual para habitáculo ou ermo certo. Assim Ovídio nas margens do Ponto Euxino, Sá de Miranda na Tapada, Unamuno em Salamanca. Afonso Duarte teve a sorte de poder eleger a sua Ereira como laço necessário de uma poesia impregnada das emanações da terra e que nelas busca as mais fundas referências do humano a que quer significar. Toda a sua obra, ecoando, como um búzio, as fainas do mar vizinho, afeiçoa o sentido dos trabalhos agrícolas e a prisão do labrego ao ciclo das estações, na luta com a água, no quadro das crenças e usanças de uma etnia cerrada em si mesma, e que todavia toca a ubiquidade e a inquietação modernas pela sua viva inserção no orbe português. Coimbra crava-lhe, ao lado, uma breve antena europeia.
Mas a musa de Afonso Duarte não é puramente ético-agrária, como no Virgílio das Geórgicas, ou cristã-campesina, como no Francis Jammes do «Angelus» da Manhã ao da Noite. O poeta da Rapsódia do Sol Nado e da Tragédia do Sol Posto conheceu e respirou a atmosfera positivista e evolucionista, ainda densa no começo deste século, e a ela foi buscar ideias e esquemas culturais para a sua poesia de fundo. Indirectamente, nos poetas então influentes, que, como Gomes Leal e Junqueiro, eram produtos da dissolução do Romantismo combinada com o novo credo científico e social; e, directamente, numa formação matemática, físico-química e biológica de graduado azul-e-branco da Universidade de Coimbra. O seu interesse de pedagogo pelo desenho, os temas e o trato naturalísticos do seu Cancioneiro das Pedras, certos aspectos do pensamento que se pode extrair dos seus poemas de fôlego, e até o poder geométrico e como que metódico do estilo que lhes corresponde, documentam essa importação cultural da sua poesia.
Sendo, porém, culta e por vezes especulativa, sobretudo nos versos longos e demoradamente encadeados, a poesia de Afonso Duarte conserva uma extrema frescura de inspiração e uma formidável singeleza de frase e de fórmulas. Alimentando-a a paremiologia e todo o folclore português. O mundo concreto a que transverte está mediado pela visão popular, sempre que lhe corresponde um lugar na hierarquia das formas de tradição do trabalho, da religião, de todos os modos pelos quais o circundante e o vivido se oferecem ao homem comum. Assim, da natural aliança do ponto de vista do intelectual com o rotineiro resulta, na obra de Afonso Duarte e graças principalmente a uma subtil imaginação criadora, de verdadeira «visitação», uma expressão poética das mais ricas da nossa literatura, e certamente uma das mais significativas dos últimos tempos em Portugal. Só os fáceis tropismos da fama, que até adulteram pelo exagero algum grande nome que acaba por monopolizá-la injustamente, como vai acontecendo com Fernando Pessoa, têm impedido que o nome de Afonso Duarte atinja a irradiação que seguramente merece. Mas o povo literário português prefere viver como plebe que exalta e derruba tribunos, a estimar com conta e medida a pluralidade ordenada da grandeza.
É difícil encontrar na nossa produção literária obra que cinja tão precisamente um tema universal como esta Sibila. Na exiguidade das suas trinta e cinco redondilhas (sextilhas com um verso retornado num sétimo), esta Sibila não prediz precisamente nem augura, senão que dá sibilinamente a volta ao horizonte histórico actual, formulando o que se pode chamar, um pouco à moda, a dialéctica das suas principais inflexões. O poeta rompe convidando esta nova Cassandra a contar, «por dedos de pés e mãos», como boa aldeã, os milhentos de anos que vão dos céus homéricos e virgilianos ao «Céu da Aviação», onde nem Príamo nem Sila cabem. E, ao fio do discurso sibiliano, os Magos do Oriente que visitam o «deus novo» e com quem o povo canta, tanto podem ser os três da Epifania como os sedicentos demiurgos do imperialismo revolucionário.
Sentindo os passos dos camelos (ou o rascar dos tanques), o poeta duvida se a Europa poderá erguer-se contra o poder de Herodes — o que significa que teme a degolação dos inocentes. Na «dança macabra de ser mais ou de ser menos», o incêndio ateado se encarregará de ir nivelando os bailarinos. Tempo de «fim de impérios». A visão dos homens, fitos nas Ilhas Afortunadas, interroga o céu de Roma, a ver se ele lhe dá as chaves da sonhada idade de ouro. O homem diverso no universo galgou os mistérios de Elêusis, e do oráculo de Delfos passou à agonia de Cristo. Sente-se a viva divisão dos que querem sujeitar a terra mãe «mãe pobre» à racionalização produtiva, e dos que se refugiam na grandeza de Deus confiando-lhe o destino humano. Se «a vida é onda após onda nos homens e nos animais», não há mais que aceitar o assédio — o que o poeta faz cantando e chorando entediado e acenando ao paraíso perdido do alto das suas cãs, como Milton do fundo da cegueira.
Uma exortação à penitência denuncia o pecado capital do «tempo dúbio» no contraditório crescimento da árvore da ciência, por um lado, e da catástrofe diluviana, por outro. Nem trevas medievais nem carnaval de Veneza parecem servir de medida à impiedade contemporânea; o futebol por ludo; Il Principe por breviário. Então Sibila avisa a Europa cristã que se resguarde e benza o oiro do Plano Marshall, se quer medrar e vencer a tirania infiel. Não é menos severa a admonição lançada à nossa grei. Mais vale transcrever que transliterar para que o leitor não perca o belo laivo epo-satírico desta estrofe: «Já meu reino foi calvário / Lá nos mares da Taprobana; / Nem tocou a igual sudário / A trombeta castelhana. / Se, como rosas de Abril, / Tem as praias do Estoril, / Já meu reino foi calvário.»
Mas Uranio preside a um fatal e geral armamento. A Humanidade jacta-se do roubo do fogo ao céu: «Vem de Avião (de Avião!) / O fogo de Prometeu», e perante tamanha necessidade, só resta ao poeta sonhar o próprio trespasse, ao estilo novo: «Não será já de alma naua, / Irei de corpo prá Lua, / Ai de Aviçao (de Avião!)». O iluso V da Vitória e o negro abandono dos doentes presidem à vicentina pretensão de embarque para a Glória, por parte daqueles que Caronte destina ao Inferno. O homem forja do mesmo alumínio o céu e o corpo; mas não admira: o mundo, diabo e carne só podiam dar isto… Por isso o poeta se refugia, com nobre e castiço acento, no seio do Salvador. A sua voz autentica-se e sobe tanto, que bem podia servir de pregão aos que nesta hora convocam à defesa da alma do Ocidente e podem correr o risco de não mobilizar das melhores armas. Oiçam, mais que à Sibila, o próprio Afonso Duarte: «Não me doa a mim o peito / Com espinhos e abrolhos, / Porque este Mundo é perfeito / Se a Cristo levanto os olhos. / Alívio das dores que sinto, / Só as chagas foram cinco, / Não me doa a mim o peito.» E, depois de seis estrofes carregadas de sábia alusão, maturidade de ânimo e do insuperável lirismo que diz o cavaleiro de São Tiago, ao que bem batalhou: «E, em nuvem, berço de rosas, / Gozarás a paz das coisas» — vem esta bela aquiescência: «Olharei pelos Céus fora / Até ver o meu Deus-Jesus. / Terra que tanto se chora / Será pontinha de luz. / Perante o Espaço infinito / A Terra é o nada de um grito, / Terra que tanto se chora!» Mas ninguém conta com o Juízo; triunfa o Apocalipse; Ícaro vai voando. Só o poeta acredita que «a alma não está perdida, se a natureza é perfeita».
Aqui palpita talvez na musa de Afonso Duarte uma certa hesitação entre o que parecia ser já equanimidade salutar, face de vez voltada ao reino de Deus, desengano do mundo revolvido, e a força do aceno dos frutos terreais sazonados. Efeito do estilo sibilino, ou passageiro apego do homem ao fim do Outono? — «Não mais, Sibila, não mais / Sonho de almas inquietas. / Que a Terra é pequeno cais / Para o sonho dos poetas…»
Interprete e decida quem puder. A verdade é que esta Sibila de Afonso Duarte, na voluntária humildade dos seus ecos da insânia do Bandarra, no seu «fingido» de arte popular e derivada, levanta o nome do poeta à posição de um Gil Vicente ante os Canti carnascialeschi do Portugal da sua época, oferecendo-nos como que uma Divina Comédia moderna escrita numa folha de rosa.
Vitorino Nemésio
Diário Popular, Lisboa, 10 de Janeiro de 1951, p. 5