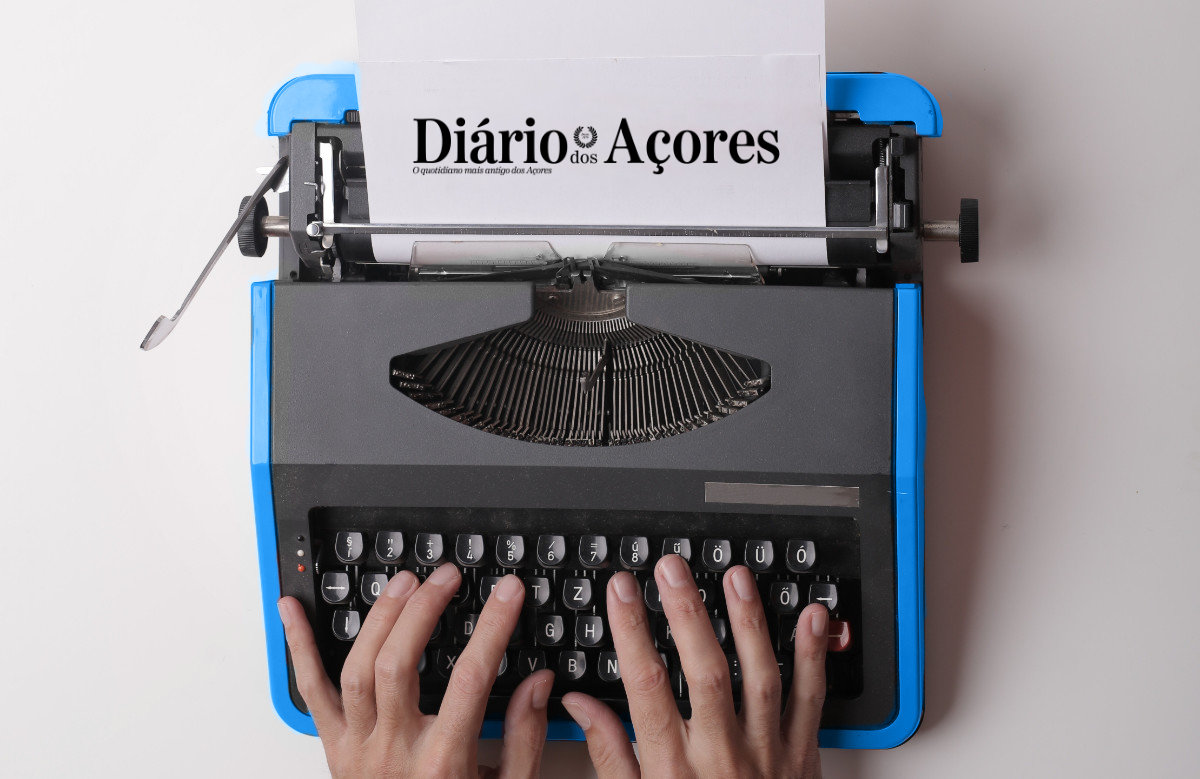Activo entre 27 de Setembro de 1957 e 24 de Outubro de 1958, o vulcão dos Capelinhos, no Faial, tem merecido variadíssimas atenções e revisitações, entre as quais a de Gonçalo Tocha, um cineasta residente, aliás, na casa que serviu de morada aos geógrafos Orlando Ribeiro (1911-97) e Raquel Soeiro de Brito (1925-), membros da missão científica que acompanhou as erupções que viriam a acrescentar um istmo de 2,4 km2 (p. 19) à ilha açoriana, criando uma paisagem insólita e inesperada que no meio da imensidão oceânica «virou uma página no panorama científico mundial» (p. 19) e desde 2008 beneficia dum centro de interpretação em arquitectura contemporânea, visitado por muitos dos turistas que cada vez em maior número escolhem os Açores para devaneios de turismo de natureza ou ócio absoluto.
Este livro — Capelinhos: Fotobiografia de um Vulcão, organizado por Paulo Barcelos e Paulo Henrique Silva e publicado há pouco pela parceira Associação Os Montanheiros e Letras Lavadas — tem o mérito de entrançar pela primeira vez duas colecções fotográficas sobre aquele exuberante fenómeno natural, e de certa maneira apresenta e homenageia os seus autores e proprietários: o médico Luís Carlos Decq Motta (1917-2011) e o tenente-coronel José Agostinho (1888-1978), um cientista e comunicador de grande importância, que seguiu os passos do seu mentor, o coronel Francisco Afonso Chaves, e ajudou a integrar os Açores no contexto científico internacional, colaborando em reuniões e publicações além-fronteiras. Nenhum dos dois eram faialenses, mas o primeiro, micaelense, viveu na Horta boa parte da sua vida, como clínico de pescadores e marinheiros, além de director de hospital, e o outro, terceirense, ali foi certamente muitas vezes enquanto director do Observatório Meteorológico dos Açores, e ainda como o vulcanólogo que também foi. À data do grande acontecimento geológico, Decq Motta era presidente da influente Sociedade Amor da Pátria, da Horta, e Agostinho dirigia, em Angra do Heroísmo, o Instituto Histórico da Ilha Terceira e acabara de ser um dos sócios-fundadores e primeiros dirigentes do Instituto Açoriano de Cultura.
As imagens fotográficas apresentadas neste livro foram, portanto, escolhidas destes dois grandes conjuntos — a colecção Decq Motta, na posse da família, constituída por aquisições em estúdios da Horta mas sobretudo por registos de Luís Carlos Decq Motta; e a colecção José Agostinho, à guarda do Museu de Angra do Heroísmo (infelizmente, ainda à espera do catálogo digital que lhe compete fazer) —, a que se acrescentaram, e muito bem, 66 fotografias a cores (Setembro de 2024) da autoria do principal organizador desta edição, Paulo Henrique Silva, em que o recurso a drones proporciona vistas panorâmicas e de pormenor jamais acessíveis a fotógrafos dos anos 1950. A discrição radical deste açoriano dinâmico e lúcido (muito acima da média) não devia ter prevalecido, pois o seu trabalho nada fica a dever ao dos dois arquivos que ele próprio laboriosamente percorreu e seleccionou. Este seu portefólio pertence à Associação Os Montanheiros.
A narrativa estrutura-se em sequências temáticas: «Convulsões» (pp. 22-105), «Contemplação» (pp. 106-53), «Destruição e reacção» (pp. 154-209), e por fim «Patrimonialização» (pp. 210-55; são estas as fotos de Henrique Silva), pois estamos agora perante um verdadeiro «laboratório natural para o estudo da evolução das paisagens vulcânicas e da sua ocupação por espécies biológicas pioneiras», como escreve Salomé Costa à p. 19 — justificando plenamente o interesse da Associação Os Montanheiros. A publicação também beneficiou da consultadoria científica desta ex-directora do centro de interpretação do vulcão dos Capelinhos.
Ao contrário do tenente-coronel e cientista, o médico datou cada uma das suas fotografias, permitindo monitorizar a evolução vulcânica e a tremenda repercussão que ela teve sobre a vida das povoações mais próximas, as suas propriedades e actividades rurais. Até a remanescente caça à baleia ficou comprometida.
As imagens iniciais reportam os primeiros episódios e fenómenos vulcânicos (v. as belas praias negras com lagunas temporárias em Novembro; p. 39), inclusive a deslocação do foco eruptivo para escassas centenas de metros do farol, em Fevereiro (p. 55), que fez acumular cinzas junto ao seu piso térreo (p. 58), antes que outras, levadas por ventos de oeste, queimassem vegetação e largas zonas agrícolas (p. 63). Em imagens de Março de 1958 são já visíveis curiosos destemidos aproximarem-se do vulcão pelo chamado Porto do Comprido (p. 69). Luís Carlos Decq Motta, deslocando-se num Morris Oxford, seguiu dia após dia a «biografia» do vulcão — «à noite, a emissão das lavas constituía um espectáculo grandioso», lê-se em legenda da p. 93, relativa a 17 de Maio) —, enquanto fotografias aéreas da colecção José Agostinho (por exemplo, as das pp. 103-105) fazem supor especiais recursos técnicos, ainda hoje por identificar cabalmente.
O capítulo «Contemplação» recupera registos do fascínio pelo «belo horrível» (sic) que fez deslocar até ao Capelo «velhos, novos ou muito novos, sozinhos, em família ou em grupos com espírito excursionista ou mesmo expedicionário» (p. 109), para ver «o teatro eruptivo», o incontrolável poder da natureza, em momentos críticos sem reservas de segurança hoje inaceitáveis pelos serviços de protecção civil. A 15 de Abril um grupo caminha na estrada para o farol (p. 115), outros deixam pegadas sobre cinzas, outros ainda tiveram a sorte de espantar-se com uma explosão com forte emissão de cinzas. Decq Motta, que amiúde se fez acompanhar da família, fotografando-a em cenários mutantes, não resistiu a posar ele próprio para a câmara em diferentes ocasiões, como sucedeu a 27 de Novembro (p. 137), junto ao ilhéu que vasto depósito de cinzas a certa altura tornou acessível por terra, para depois ser soterrado. A 24 de Abril retratou Tomás Pacheco da Rosa, o único faroleiro que permaneceu no seu posto, e cuja dedicação haveria de ser reconhecida com as funções de observador oficial do vulcão, recolhendo amostras e dados com instrumentos que lhe foram confiados pelo governo central.
«Destruição e reacção» é bem o reverso de tudo isso. Cerca de 174 milhões de metros cúbicos de produtos vulcânicos (incluindo fios de vidro basáltico; p. 189) foram lançados sobre o mar e a terra durante treze meses, 5000 pessoas foram deslocadas, 1037 casas afectadas em maior ou menor grau e, mostrando o efeito social desta devastação, logo em Setembro de 1958 2000 famílias faialenses foram autorizadas a emigrar para os Estados Unidos da América pelo «Azorean Refugee Act», a lei pública 85-892. A freguesia da Praia do Norte e o lugar da Ribeira do Cabo colapsaram, mas a crise sísmica de 12-13 de Maio teve dois outros epicentros em Espalhafatos e Lombas do Sul da Caldeira, onde, como documentam fotografias, quase não ficou pedra sobre pedra. A ermida de Nossa Senhora da Esperança, no Norte Pequeno, foi destruída (p. 180). Estradas abriram brechas ou, cobertas de cinzas vulcânicas, tornaram-se intransitáveis, forçando a mobilização popular para a sua desobstrução. O peso de cinzas acumuladas fez abater telhados, casas de baleeiros ficaram soterradas (p. 194). Uma admirável sequência fotográfica dá conta dos grandes danos causados no farol e nos edifícios anexos («em poucos meses, a área junto ao farol estava irreconhecível»), os quais acabariam por ser integralmente demolidos.
Depois das imagens dos anos 1957-58 a preto e branco, as coloridas de 2024 exibem toda a variedade químico-cromática das novas formações geológicas e da parca vegetação que subsiste nas largas manchas de cinza vulcânica que embrulham a nova paisagem dos Capelinhos subjacente ao mar. Podemos sempre lembrar o livro Fogo Frio que Duarte Belo publicou em 2008, ou imagens de tantos outros fotógrafos que se deixaram desafiar por este lugar inesquecível, porém parece nítido que Paulo Henrique Silva se propôs documentar secções geológicas com interesse científico acrescido, em que a erosão hídrica e eólica faz quotidianamente o seu trabalho perpétuo.
Vasco Rosa
Texto publicado inicialmente no «Observador», a 11 de Outubro de 2025.