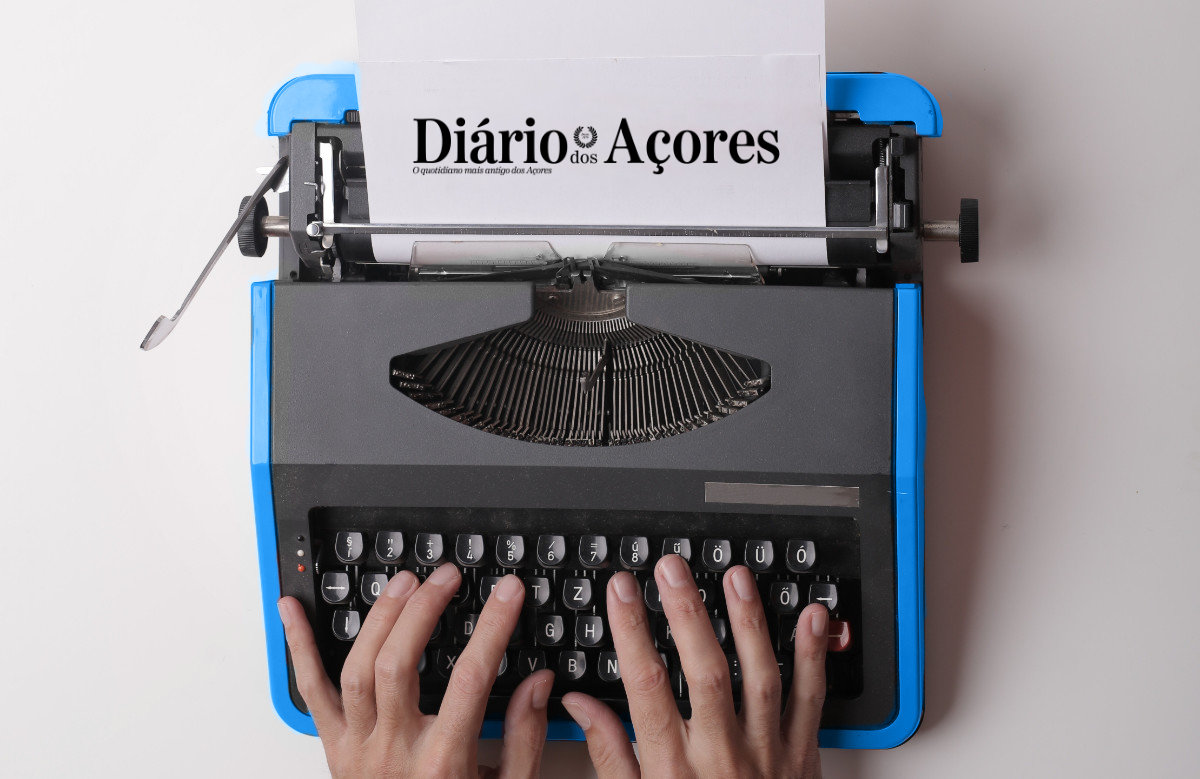Do mito nacional à poesia de Pessoa, passando pela genética, a escola e os heróis, a cultura age como um código invisível que molda quem somos.
A cultura é suscetível de moldar o comportamento humano da mesma forma que os genes. Esta noção intrigante não é apenas uma hipótese futurista em termos do sempre crescente conhecimento humano. Embora o processo como função mental não tenha sido ainda definido, a investigação científica em curso sugere que é já uma realidade emergente. Cada vez mais investigadores consideram que práticas sociais, crenças e símbolos coletivos não são apenas frutos da história, mas forças ativas que influenciam a forma como pensamos, sentimos e agimos.
O biólogo Richard Dawkins, em O gene egoísta, propôs o conceito-chave de “fenótipo alargado” que nos ajuda a entender aquela lógica. Os genes, assim, não se limitam ao corpo, estendendo os seus efeitos ao ambiente através de comportamentos ou estruturas criadas pelos organismos. Um castor que constrói um açude, por exemplo, está a expressar os seus genes para além do corpo, moldando o seu ecossistema.
Inspiradas por esta ideia, a bióloga Eva Jablonka e a psicóloga Marion Lamb argumentam que “fatores culturais” — hábitos, valores, práticas sociais — funcionam como “agentes epigenéticos”, ou seja fatores externos que regulam o mecanismo como se manifestam sem alterar o ADN. É como se a cultura escrevesse notas à margem do nosso manual genético, instruindo o corpo e a mente para funcionarem num determinado contexto.
Sob esta ótica, o mito nacional, os ritos coletivos ou os símbolos pátrios tornam-se ambientes simbólicos com peso real. Atuam sobre a nossa regulação emocional, o sentido de pertença e até os traços de personalidade que aprendemos a valorizar como a bravura, o sacrifício ou o brio coletivo.
Sem a pretensão de ser uma autoridade nesta matéria, propus num trabalho académico a ideia de genoma simbólico para categorizar um conjunto de marcas culturais duradouras, transmitidas como um código de sentido entre gerações. Hinos, bandeiras, narrativas fundacionais, tudo isto funciona como um mapa invisível que orienta desde cedo o modo como interpretamos o mundo.
No caso português, a imagem de D. Afonso Henriques como herói fundador, a epopeia camoniana e a ideia de um destino imperial construído além-mar moldaram durante séculos a identidade nacional. O Estado Novo ampliou esta herança simbólica, convertendo-a num retrato oficial de “ser português” — austero, devoto, sacrificial.
Na diáspora, os símbolos adaptam-se, mas não desaparecem. Nas comunidades luso-americanas da Nova Inglaterra, por exemplo, a figura do “pioneiro açoriano” — resistente, trabalhador e silencioso — tornou-se uma matriz de identidade. Documentos históricos, crónicas locais e tradições orais alimentam uma autoimagem que valoriza o esforço, a família extensa e a contenção emocional como forma de sobrevivência num meio por vezes hostil.
Neste processo, a escola assume um papel decisivo. O sistema educativo, que nunca se assumiu um espaço neutro, age como laboratório onde o genoma simbólico é ativado ou redefinido. Conceitos como “mérito”, “disciplina” ou “identidade nacional” funcionam como comandos sociais, posicionando os alunos dentro de um modelo esperado de comportamento. O ensino da história é particularmente revelador. Enquanto a cultura dominante celebra o “Mayflower” como símbolo fundador dos Estados Unidos, o percurso dos açorianos — o seu “galeão invisível” — é frequentemente esquecido. Perde-se, assim, uma oportunidade de integrar esta narrativa resiliente no imaginário coletivo americano.
Os mitos fundadores não se limitam àquilo que escolhem incluir, atuando também pela seleção do que perpetuam. Ao admitir ter cortado a árvore, no episódio emblemático da cerejeira, porque “não podia mentir”, o jovem George Washington, inaugura um gesto simbólico que transcende a verdade factual. Independentemente da sua historicidade, este mito atua como uma cartilha moral, transmitida ao longo das gerações. Ser americano, neste contexto, significa estar alinhado à expectativa de honestidade e integridade. Como outros arquétipos nacionais, este fragmento narrativo molda comportamentos, juízos éticos e até prefigura normas institucionais sobre o significado de cidadania.
Nenhum autor português talvez compreendeu melhor, e questionou mais profundamente este edifício simbólico do que Fernando Pessoa. A sua poesia, entre o épico e o íntimo, é ao mesmo tempo celebração e crítica do mito nacional. Na Mensagem evoca-se o esplendor passado com imagens quase litúrgicas, numa síntese poderosa da visão providencial da história portuguesa, onde o império se torna desígnio sagrado e o sacrifício vocação coletiva, reafirmando o papel quase messiânico atribuído aos navegadores lusos. Mas há nesta exaltação um desconforto existencial, uma pergunta sem resposta sobre o futuro e a autenticidade do espírito português.
Sob múltiplos heterónimos, Pessoa desfragmenta o “eu nacional”, mostrando que a identidade não é uma essência, mas um palco onde várias vozes disputam sentido. A sua obra revela como o genoma simbólico também pode ser revisitado, pleiteado e até recodificado pela linguagem poética. E talvez seja esta a mais alta função da cultura ao dar-nos símbolos com que nos reconhecemos, mas também ferramentas com que nos reinventamos.
Manuel Leal